![Divulgação]()
A seguir, o filósofo, professor livre docente da USP e colunista da CULT Vladimir Safatle responde crítica do professor emérito da USP Ruy Fausto sobre seu livro A Esquerda que não teme dizer seu nome ( Três Estrelas, 2012), recentemente publicada na revista eletrônica “Fevereiro” (leia aqui: http://revistafevereiro.com/pag.php?r=05&t=13).
Um mal-entendido
Este é um texto que gostaria de não ter escrito. Textos nos quais o autor tenta se defender de críticas que lhe são endereçadas só se justificam se tais críticas vierem de alguém que, a princípio, pode ser convencido através de novo encadeamento de argumentos. Alguém que, mesmo discordando de certas posições do autor, está disposto a rever argumentos ou, ao menos, melhorar o foco de suas críticas. É triste dizer isto, mas não creio que este seja o caso de Ruy Fausto e de sua resenha sobre meu livro A esquerda que não teme dizer seu nome.
Escrevo este texto não visando abrir alguma forma de debate. Escrevo-o para afirmar a impossibilidade de haver um verdadeiro debate entre nós ou talvez para constatar que, no fundo, nunca houve entre nós algo parecido a um debate. Só uma sucessão de mal-entendidos. É triste, mas há de se conviver com isto na vida intelectual e passar a outra coisa.
Depois de fazer sua resenha de meu livro, Fausto deplora que algo como uma “incipiente filosofia crítica instalada em terras sul-americanas” tenha sido perdida por pessoas como eu. Pessoas, a seu ver, que estariam afogadas no “ambiente hiper-competitivo que reina em certas universidades” e que teriam liquidado nossas possibilidades críticas. De minha parte, não creio ser o caso de “defender-se” de colocações desta natureza. Apenas creio que isto é o sintoma da impossibilidade de Fausto realmente ouvir questões e elaborações intelectuais que não são as suas.
Marcado por uma passagem pela extrema-esquerda trotskista, Fausto percebeu o equivoco de perspectivas políticas que faziam uma negação abstrata demasiado simplória da democracia parlamentar. Ele faz parte de uma geração que se volta para o passado e se pergunta como pôde acreditar em ideias como “centralismo democrático” e “ditadura do proletariado”. No entanto, setores de tal geração tendem a ser insensíveis a outra coordenada histórica, a saber, a dos que nunca tiveram passagens por extremismos desta natureza, que cresceram em outro momento, mas que percebem claramente os limites de atuação e transformação no interior das estruturas político-partidárias da democracia parlamentar.
Sendo assim, da experiência de auto-crítica dos engajamentos de juventude restou para Fausto uma perspectiva esquemática que consiste em dizer que todos os que vêem a democracia parlamentar atual como regime submetido a processos de degradação normativa abrem necessariamente as portas para figuras do totalitarismo. Tanto é assim que ele pode dizer sobre meu livro, sem o menor constrangimento: “De uma forma ou de outra, o livro contém uma pregação anti-democrática (contra a democracia parlamentar, dirá Safatle, mas, em tempos modernos e contemporâneos, não há como separar uma coisa da outra)”. Ou seja, qualquer um que fizer a crítica da democracia parlamentar só pode, para Fausto, abraçar pregações anti-democráticas.
Para mim, este é um pensamento dogmático e inaceitável. Primeiro, porque ele peca pelo mesmo equivoco que Fausto me imputa. Em dado momento de seu texto, ele diz, a respeito de minha defesa da importância de compreender o que esteve em jogo nos projetos estéticos e políticos vinculados à temática do “homem novo”, projetos que animaram a crítica dos limites normativos de antropologias naturalizadas: “Falta a Safatle como aos seus modelos um mínimo de consciência das tendências à regressão histórica, que emergem frequentemente dos projetos escatológicos de ‘salto’ no futuro”. Eu diria, de minha parte, que falta a Fausto um mínimo de consciência das tendências à regressão histórica que emergem dos projetos de defesa dos limites atuais de nossa democracia parlamentar. Ou seja, há simplesmente uma incapacidade de compreender como regressões podem ocorrer nas estruturas políticas vinculadas a processos de racionalização social.
Por esta razão, Fausto precisa levar à caricatura toda inventividade na constituição de mecanismos de democracia direta, mecanismos estes que podem tomar a experiência democrática por outra via. Assim ele o faz quando ridiculariza minha forma de insistir na institucionalização de decisões que devem passar por plebiscito (como declarações de guerra, políticas econômicas em época de crise, entre outros exemplos que apresentei no livro). Vejam que, em momento algum, preguei alguma forma de dissolução do Parlamento ou “liquidação da democracia parlamentar”. Falei de transferência de funções do parlamento para mecanismos de democracia direta, de direito de resistência e recuperação do conceito de soberania popular, o que, para Fausto, já é uma pregação anti-democrática. No entanto, se quiserem um bom exemplo do que tenho em mente, basta lerem a nova constituição da Islândia, com sua lei que permite à população exigir que decisões do Parlamento só tenham validade caso ratificadas por plebiscito, desde que 10% dos seus 320.000 habitantes assim o exijam. Há realmente algo de pregação anti-democrática nisto? No entanto, este era o horizonte de ações que meu livro procurava estabelecer.
Ou seja, ao contrário do que pensa Fausto, não sou um “inimigo” da democracia parlamentar. Este jargão amigo/inimigo parece-me, na verdade, uma maneira infantil de tratar de temas desta natureza. Falei em necessidade de “superação” da democracia parlamentar e ninguém melhor do que Fausto sabe a diferença entre uma superação e uma negação simples, entre uma superação e uma “recusa inegociável de toda democracia parlamentar”. O problema é que Fausto acredita que estou às voltas com a tentativa de defender o modelo de crítica da democracia parlamentar de Badiou e Zizek. No entanto, nunca, em lugar algum, fiz a defesa acrítica deste modelo. Em alguns textos, eu simplesmente o apresentei, mas nunca o defendi de maneira absoluta. Ao contrário, já em 2001, quando poucos eram os que, no Brasil, liam tais autores, publiquei um texto em que pode se ler claramente minhas ressalvas à maneira de Badiou eleger a democracia como significante inutilizável[1]. Por outro lado, publiquei, já em 2005, um texto em que criticava a dificuldade de Zizek em pensar de maneira adequada o problema da violência política[2].
A meu ver, tal mal-entendido produzido por Fausto se explica da seguinte forma: para defender seu esquema a qualquer preço, ele precisa projetar em meu livro, sistematicamente, proposições que simplesmente nunca enunciei. Ou seja, para mim, sua resenha sobre meu livro A esquerda que não teme dizer seu nome visa, muitas vezes, um inimigo que não está lá no meu texto; inimigo representado por figuras como Zizek e Badiou. Fausto precisa reduzir todo pensamento que lhe é estranho a uma matriz comum para, com isto, justificar melhor seus temores de sempre.
No entanto, como não estou no negócio da esconjuração ou da cruzada de denúncia contra pretensos farsantes, vejo-me na possibilidade de reconhecer contribuições relevantes de certos autores sem precisar assumir seus erros ou os pontos que, até para eles mesmos, ainda não estão completamente definidos. Nestes casos, trata-se de praticar um tipo de pensamento para o qual a proximidade não significa adesão. Sobretudo, trata-se de recusar uma versão belicista da filosofia contemporânea na qual pensar equivale a escolher certos autores como inimigos intransponíveis a respeito dos quais nenhum reconhecimento de relevância é possível. De fato, isto eu me recuso a fazer.
Da mesma forma, se trouxe a baila Claude Lefort em meu livro foi para dizer que mesmo autores que estão dispostos a fazer a defesa da democracia parlamentar reconhecem a necessidade de dissociar direito e justiça, Estado democrático e Estado de Direito. Diga-se de passagem, não disse que era possível passar da transgressão própria a uma greve ou a uma manifestação ecológica à crítica do Estado democrático. Há má vontade nesta afirmação, pois simplesmente afirmei a possibilidade de passar de tais transgressões à crítica do Estado de direito como horizonte geral de judicialização da política. Mas, para mim, é sintomática a impossibilidade de Fausto aceitar distinções entre Estado democrático e Estado de Direito atualmente constituído, entre democracia e democracia parlamentar.
Mas de todas as críticas que Fausto endereça a mim aquela que é a mais prenhe de má-vontade diz respeito a minha pretensa: “filosofia mallarmeana-vulgar, que pensa a história como um jogo de dados”. Ele se refere a minhas discussões a respeito dos fracassos históricos e dos movimentos de efetivação política de idéias de refundação social. A este respeito, julgo ser sinal de desrespeito acreditar que poderia imaginar coisas tão toscas quanto “Stálin tentou, Mao tentou, Pol Pot tentou… Não deu certo. Vamos tentar de novo…”. Se Fausto realmente acredita que eu poderia pensar algo desta natureza, recomendo que ele deixe de me tratar como idiota. O último que falou algo parecido a respeito de meu livro foi um jornalista português de direita, José Pereira Coutinho. De Fausto, eu esperava um pouco mais.
Deixo aos leitores um trecho de meu livro a respeito desta questão. Avaliem por si mesmos se, de fato, trata-se de uma “concepção mallarmeana-vulgar da história”: “a experiência histórica do século XX deve nos servir para reconhecer que os fracassos de uma ideia não implicam seu abandono, mas maior consciência de sua falibilidade [será que tenho de colocar isto em negrito?]. Neste sentido, poderíamos lembrar aqui de Adorno e afirmar que agir tendo em vista a consciência de nossa falibilidade é a primeira condição para uma ação moral”. Imaginar que isto legitima algo como “Não deu certo. Vamos tentar de novo…” foge à minha capacidade de compreensão.
Formulações pouco claras
Das críticas que Fausto endereça a mim, reconheço que há uma que indica formulações pouco claras de minha parte. Ela se refere à minha defesa do universalismo. Fausto acusa-me de professar um “universalismo estreito, fechado às diferenças”. Esta acusação já fora feita também por Caetano Veloso, Idelber Avelar, entre outros. Lembro inicialmente que não foram poucas as vezes que publiquei na grande imprensa textos defendendo explicitamente o casamento homossexual, o direito das mulheres ao aborto, o direito ao respeito às diferenças religiosas (como o uso de véu entre garotas islâmicas), a relevância da política de cotas, entre outros pontos. Ou seja, se eu fosse realmente alguém fechado à importância das lutas que se consolidaram no interior da dita “política das diferenças”, minha atitude seria completamente esquizofrênica. Como prefiro acreditar que a esquizofrenia não é uma das minhas patologias, parece-me que não encontrei formulações adequadas para expressar o tipo de universalismo que creio defensável. Essas críticas acreditam que procuro um universalismo pré-política das diferenças. Na verdade, creio que é possível pensar um universalismo que apareça como motor de uma “política pós-identitária”.
Parti da hipótese de que a política das diferenças, que animou as lutas sociais a partir dos anos 1970 e que ainda tem importância decisiva no processo de universalização de direitos para grupos vulneráveis e com forte histórico de discriminação (negros, homossexuais, minorias religiosas e linguísticas, etc.), não pode ser o horizonte regulador de nossas lutas. É inegável que tais políticas permitiram avanços sociais através da consolidação de sociedades multiculturais. No entanto, elas correm o risco de provocar uma atomização social por fornecer a imagem de uma sociedade fortemente definida por padrões identitários.
Tal atomização faz com que indivíduos se vejam, inicialmente, como portadores de identidades claramente determinadas que devem ser defendidas e reconhecidas. Como resultado temos a compreensão de toda noção de “universalismo” como potencialmente totalitária e a transformação da cultura como campo fundamental do político, com a sua exigência da afirmação e visibilidade das diferenças.
Esta estratégia, no entanto, mostrou nos últimos anos seus limites. Não por outra razão, as sociedades multiculturais são assombradas, atualmente, por fortes desejos de exclusão. Pois a política das diferenças nos leva a colocar perguntas como: até que ponto consigo tolerar uma diferença? Ou seja, o outro é visto por mim como potencialmente diferente e intolerável. Não por outra razão, “tolerar” alguém tem o sentido de suportar o mal que sua presença me faz. Quem “tolera” alguém pensa, no fundo: – Melhor que ele não existisse, mas como ele está aí, não há nada mais a fazer, tenho que tolerá-lo. No limite, as sociedades multiculturais, estas animadas pela tolerância como afeto político, precisam construir a imagem da diferença intolerável. As mulheres muçulmanas de véu são um bom exemplo.
Por isto, defendi que a indiferença pode ser um afeto político importante. Mas pode-se argumentar que não estaríamos melhor elevando a indiferença a afeto político central. Não por outra razão, o termo traz conotações negativas, como “não me importar com a sorte do outro”, “ser insensível ao que o outro representa”. No entanto, podemos dizer que há duas formas de insensibilidade. Posso ser insensível ao outro por tê-lo expulsado do meu mundo, mas posso também ser insensível ao outro por não vê-lo mais como outro, por estar em uma zona de indiferenciação entre eu e outro. Neste sentido, minha insensibilidade é, na verdade, maneira de dizer: – Sua diferença não me toca porque nenhuma diferença me é estranha.
Do ponto de vista político, trata-se de aplicar uma liberalidade que retira o cerne do conflito social da afirmação das diferenças culturais e de costumes. Isto não significa voltar para trás, mas pensar um modelo de institucionalização de zonas de indiferenciação.
Posso dar como exemplo o problema do casamento. Estamos atualmente diante de discussões a respeito da autorização do casamento entre homossexuais. Reivindicação legítima por excluir largas parcelas da população do direito de reconhecimento jurídico de relações afetivas entre sujeitos autônomos. Mas poderíamos aproveitar tal momento para se perguntar se o Estado não deveria, pura e simplesmente, parar de legislar sobre a forma da vida afetiva de seus cidadãos.
O contra–argumento clássico consiste em dizer que, ao deixar de legislar sobre a forma do casamento, o Estado desguarnece aqueles que são mais vulneráveis (no caso, as mulheres). Há ai, no entanto, um problema maior. A despeito de legislar sobre questões de sua alçada (como as relações econômicas no interior da família, o problema da posse dos bens em caso de separação, direito de pensão etc.), o Estado legisla sobre aquilo que não lhe compete (a forma das escolhas afetivas dos sujeitos). O Estado legisla sobre questões de ordem econômica, não sobre questões de ordem afetiva. Mas o casamento não é simplesmente um contrato econômico. Ele é, antes de mais nada, o reconhecimento de um vínculo afetivo.
Neste sentido, nada impede que o Estado legisle sobre as questões estritamente econômicas no casamento, nas uniões estáveis, calando-se sobre a forma destas uniões (se entre um homem e uma mulher, duas mulheres, duas mulheres e um homem etc.). O mesmo acontece com as leis europeias absurdas sobre uso de véu. A despeito de defender mulheres da opressão, o Estado entra no guarda-roupa de seus cidadãos. Muito mais correto seria criar leis gerais que simplesmente proibissem alguém de usar vestimentas que não quer. Ou seja, nos dois casos, o Estado moderno precisa aprender a lidar com zonas de indiferenciação: um marco fundamental para políticas pós-identitárias. É isto o que entendo por “indiferença ‘as diferenças”. O que é engraçado é que creio que nem mesmo Fausto pense diferente.
Maus defuntos
Por fim, elenco algumas colocações que Fausto me imputa na tentativa de demonstrar que, em meu livro, criei uma espécie de monstro conceitual ao tentar aproximar as posições políticas de Badiou, Zizek, Agamben, Derrida (todos pretensamente “pós-estruturalistas”) e de Adorno e Lefort (representantes de uma tradição esquerdista democrática). Como se eu fosse uma espécie de chapeleiro maluco da filosofia.
Bem, é interessante inicialmente lembrar que, em momento algum, fiz referência a Adorno em meu livro. Tenho dificuldade em entender por que seria cobrado por algo que simplesmente não fiz. O que há de mais engraçado é que, no único momento em todos os meus livros em que, por exemplo, articulei Adorno e Zizek foi nas paginas 202 a 204 de Grande Hotel Abismo ao mostrar como Adorno pode nos auxiliar na criticar à teoria da violência de Zizek. Ou seja, não tentei colocá-los juntos, mas separá-los. Diga-se de passagem, Fausto se equivoca ao dizer que a “caricatura do pós-estruturalismo” (ou seja, Badiou e Zizek) serve-se de Adorno. Na verdade, os dois se distanciam explicitamente do frankfurtiano em mais de uma ocasião[3].
Segundo, creio que Fausto é pouco preciso no seu uso do termo “pós-estruturalista”. Em contexto algum Badiou e Zizek são “pós-estruturalistas”, nem sequer caricaturas. Ao contrário, eles representam uma tendência bastante crítica ao pensamento de Derrida, Foucault, Deleuze e Lyotard, mesmo que seja uma crítica que aceita o diálogo. Uma das premissas de Zizek sempre foi retirar o pensamento de Lacan das leituras pós-estruturalistas. Badiou se vê como um platonista, o que não me parece um bom cartão de visita pós-estrutural.
Mas Fausto afirma também que o pós-estruturalismo “sequestrou” Adorno. Interessante esta transformação do diálogo possível entre duas tradições intelectuais em sequestro. Não basta uma pletora de comentadores (como Martin Jay, Axel Honneth, Peter Dews, Jay Bernstein e mesmo Habermas) reconhecer a partilha comum de problemas e diagnósticos a respeito da crítica da razão, da função da reflexão estética, dos impasses da filosofia da consciência, da reificação da linguagem ordinária enquanto espaço de reconhecimento intersubjetivo, dos limites de uma racionalidade procedural para a compreensão da ação moral e do caráter alienante de uma subjetividade centrada na figura do Eu . Para Fausto, reconhecer a possibilidade de paralelismos entre Adorno e experiências intelectuais da filosofia francesa contemporânea é, de antemão, inaceitável porque Foucault e seus amigos seriam “anti-humanistas”. Isto lhe economiza ir diretamente aos textos. Com isto, Fausto parece ignorar que problemas como a emancipação estão presentes em autores como Foucault (basta ler os últimos cursos no Collège de France e suas reflexões sobre a noção de “cuidado de si”) e Deleuze (basta levar a sério o horizonte de reconciliação entre vida social e economia psíquica subjetiva pressuposto por O anti-Édipo). Por sinal, este hábito de criticar os filósofos franceses contemporâneos sem lê-los de maneira sistemática não começou hoje entre nós.
Na verdade, nunca disse que Adorno era anti-humanista (para tanto, Fausto se apoia, em uma epígrafe que utilizei em capítulo de Grande hotel Abismo). Mas se ele tivesse lido meu texto perceberia que simplesmente afirmei que Adorno tinha uma crítica do humanismo e da figura moderna do indivíduo. O que não poderia ser diferente para um leitor atento de Freud. Disse também que, no interior das querelas sobre o anti-humanismo francês, deveríamos estar atentos à importância da crítica ao que Foucault um dia nomeou de “sono antropológico”, ou seja, à presença insidiosa de uma antropologia profundamente normativa nunca claramente tematizada a servir de horizonte de validação e legalidade dos critérios intersubjetivos que procuram racionalizar nossa forma de vida. Afirmei, por fim (conforme pág. 222 de Grande Hotel Abismo), que as estratégias de Adorno e do pensamento francês contemporâneo (a exceção de Lacan) não eram simétricas, já que Adorno estava, mesmo assim, disposto a conservar a centralidade da categoria de sujeito. Mas Fausto só consegue ver nestes debates um convite perigoso ao niilismo moral, ao irracionalismo e à violência política desenfreada, no que, ao menos neste ponto, sua leitura não se distingue muito da crítica conservadora mais ferina.
Bem, eu poderia continuar indefinidamente tal discussão, mas queria apenas mostrar que o livro que Fausto leu não foi aquele que escrevi. Respeito as posições de Fausto, mesmo que não concorde com elas. Continuarei respeitando, e admirando seus textos, mas sem a crença de que, em algum momento, poderemos participar de um debate. Para mim, depois desta resenha, ficou definitivamente claro que tudo o que conseguiremos fazer é uma sucessão de mal-entendidos, desencontros e equívocos. A filosofia está cheia de diálogos que, no fundo, nunca ocorreram. Este é apenas mais um.
[1] Ver SAFATLE, Vladimir; “ Os novos sofistas”; IN: MEIRA, Milton (org.)
Jornal de resenhhas – seis anos, vol. II, São Paulo : Discurso Editorial, 2001.pp. 1844-1846
,
[2] Ver SAFATLE, Vladimir; “Lenin com Lacan”, In: Margem Esquerda, n. 6, 2005
[3] Basta ler BADIOU, Alain; “La dialectique negative d´Adorno” in Cinq leçons sur le cas Wagner, Paris: Nous, 2010 e o primeiro capítulo de ZIZEK, Slavoj; O mais sublime dos histéricos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991
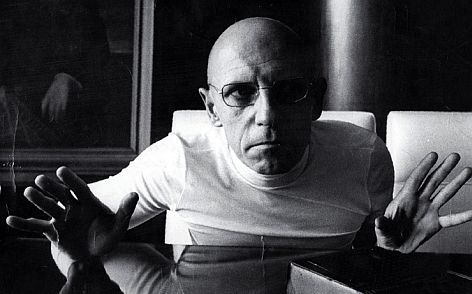










 Matar ou morrer não é apenas um filme freudiano, como foi recebido em sua época, é também um filme trágico sobre a relação com o tempo. O circuito dos afetos, na melhor tradição žižekiana é uma desmontagem dessa escolha fantasmática, na qual nos aprisionamos clínica e politicamente. Muito além de matar ou morrer, que é a falsa escolha hobbesiana que nos acossa presentemente, com sua moral da sobrevivência, com sua pequenez jurídica da vida e com seu circuito míope de afetos como ódio, medo e inveja, o livro de Vladimir Safatle é uma cura para nossa reinante falta de imaginação política… e clínica.
Matar ou morrer não é apenas um filme freudiano, como foi recebido em sua época, é também um filme trágico sobre a relação com o tempo. O circuito dos afetos, na melhor tradição žižekiana é uma desmontagem dessa escolha fantasmática, na qual nos aprisionamos clínica e politicamente. Muito além de matar ou morrer, que é a falsa escolha hobbesiana que nos acossa presentemente, com sua moral da sobrevivência, com sua pequenez jurídica da vida e com seu circuito míope de afetos como ódio, medo e inveja, o livro de Vladimir Safatle é uma cura para nossa reinante falta de imaginação política… e clínica. 
